Não esperem encontrar neste “post” estórias bizarras ou testemunhos ergóticos temperados com alho, pois não farei aqui nenhuma exposição sistemática a respeito dessa criatura imaginária, saída da anti-estrutura social, à qual os Eslavos deram o nome de “vampiro”. Em vez disso, procurarei apenas dar a minha opinião sobre este tema – que parece ter voltado à ribalta, ou não vivêssemos nós uma fase neo-romântica, devido a factores de ordem sócio-cultural – que invadiu as nossas televisões, segundo me apercebi muito recentemente.
Um vampiro assume muitas formas. A ideia de um cadáver que se ergue do túmulo parece não passar de uma antropomorfização do conceito de doença ou, mais simplesmente, da recusa do nosso inconsciente em compreender e tolerar a questão da morte.
No romance de Charlotte Brontë, “Jane Eyre”, a esposa louca de Mr. Rochester acha-se trancada numa divisão escura, fora do alcance dos olhares curiosos. Ela é por excelência o vampiro que suga a energia daquele lar e que a todos causa repulsa e constrangimento. Os nossos hospitais psiquiátricos albergam uma vasta variedade desta tipologia, gente que se tornou incómoda para os seus semelhantes, pessoas que sofreram traumas impostos por uma sociedade que não as soube proteger da violência, da miséria, da guerra e do crime e que, por fim, lhes volta as costas, encerrando-as num lugar próprio para o dito efeito e sob o lema “o que não se vê, não se sente”.
A imagem do vampiro, conforme a literatura gótica e o cinema a concebem, migrou para o Leste europeu na bagagem cultural dos povos eslavos oriundos da Rússia Branca e da Polónia. Destes, apenas as tribos que se fixaram a Este do Elba conservaram impressões da sua religião original. A mitologia destes povos, forjada pela fome e pela dureza do clima, falava de mortos que se alimentavam do sangue dos vivos para sobreviverem ao túmulo, espalhando a doença nas aldeias. É notória a repetitiva associação entre o mito do vampiro e a proliferação de epidemias. Não precisamos de retroceder tão longe quanto o século V d.C. para percebermos este fenómeno, visto que há pouco mais de cem ou duzentos anos o vampiro dava pelo nome de “tuberculose”, como sucedeu, por exemplo, em Halifax, Nova Escócia, onde os habitantes chegaram a desenterrar corpos considerados suspeitos…
Para além de vampiros, a religião eslava fala-nos acerca de lobisomens; de “rusalki”, donzelas que sofreram uma morte prematura; de Bagnik e Bolotnik, homens velhos e imundos que habitavam os pântanos; e de “vila”, mulheres muito belas e fatais como sereias. O culto do deus Perun, patrono do raio e do trovão, foi completamente banido em 988 pelo rei Valdamarr I, o “Grande”, de origem viking, que , após converter-se ao Cristianismo, ordenou a destruição dos templos de Kiev e de Novgorod. A estátua do deus, com a sua cabeça de prata e barba de bronze, foi engolida pelas águas do Dniepre. O culto deste deus desenvolveu-se na Escandinávia sob o teónimo “Tor”. Uma outra deusa, Mielikki, patrona da caça e das florestas, que podemos encontrar na Europa Oriental até pelo menos ao século XVIII, era igualmente cultuada pelos escandinavos, o que não surpreende, visto Kiev ter sido uma colónia viking.
A meu ver, o vampiro de longe mais complexo e fascinante é o antropológico. É para este que chamo especial atenção, por tão raramente ser retratado e tantas vezes negligenciado.
Os Ndembu, povo semi-nómada e matriarcal do norte de Angola, estudado por Victor Turner e documentado na sua obra “The Forest of Symbols”, lançam uma luz completamente nova sobre o mito do vampiro através das suas crenças e rituais muito particulares. Para este povo, a figura do caçador é a mais prestigiada. Ele pode ser visto como uma personagem-tipo ou um actante, uma vez que encarna a bravura de espírito e o desafio das forças incógnitas e misteriosas que as florestas abrigam. Para se ser um bom caçador é preciso falhar. Só alguém que já tenha sido confrontado com a perda e com a derrota tem capacidade de assumir a liderança numa actividade perigosa. Um caçador valoroso que já tenha dado mostras da sua valentia é considerado protegido pelos antepassados, tem um mecenas que não pertence mais ao mundo dos vivos, e torna-se “mãe dos caçadores”. Esta função, roubada às mulheres, prende-se com uma apropriação de estatutos num jogo identitário que classifica o “grande caçador” como uma espécie de matriarca, já que é à mãe Natureza que ele vai buscar a carne. É precisamente aos antepassados da mãe que o caçador pede auxílio antes de se embrenhar na mata escura e densa, território desconhecido onde um sem-fim de criaturas malignas e poderosas o espreitam. A alma do morto guia o caçador até à caça. A sua função é a de revelar o que se encontra oculto. Quando o caçador retorna à aldeia, coloca a peça de carne ensanguentada sobre um altar bifurcado, o “chising’r”. O sangue escorre pela haste para debaixo de um tufo de erva onde o antepassado se esconde para o beber, antes de a carne ser distribuída pelos aldeões. É curiosa a analogia entre este gesto e o de um padre durante a missa. O vinho, que representa o sangue de Cristo, é tomado pelo sacerdote, mediador do Além, enquanto a hóstia, representativa da carne de Cristo, é dada aos fiéis…
As almas dos antepassados necessitam de sangue para voltarem à vida. No útero, os bebés são alimentados com o sangue materno, daí a grande importância do papel da mãe. É através das mulheres que os antepassados poderão reencontrar o caminho para a vida. Assim sendo, enquanto as mulheres da tribo dão o seu sangue aos filhos, os homens Ndembu chamam a si a função feminina de alimentar os espíritos dos mortos para que estes continuem a favorecê-los durante as caçadas.
O vampiro há muito deixou de ser um exclusivo da mitologia, o que sem dúvida justifica tão grande protagonismo. Não é mais entre campas empoeiradas ou dentro de caixões decrépitos que o devemos procurar, mas num cemitério mais vasto: o da mente. Crucifixos e água benta nada podem contra o vampiro psicológico, parasita da estrutura do Ego, que nos domina e consome. Faz todo o sentido o seu regresso aos tempos de agora, numa sociedade que se auto-corrói e que ocupa os seus membros com tarefas que nada produzem. Lisboa é um vampiro gigantesco, um monstro de enormes dentes e bocarra escancarada, uma gárgula que desde a Idade Média devora o trabalho árduo das vilas e aldeias que a alimentam. Os dirigentes políticos vieram sobre nós de mansinho “batendo as asas pela noite calada” e se não acordarmos a tempo “eles comem tudo e não deixam nada”!








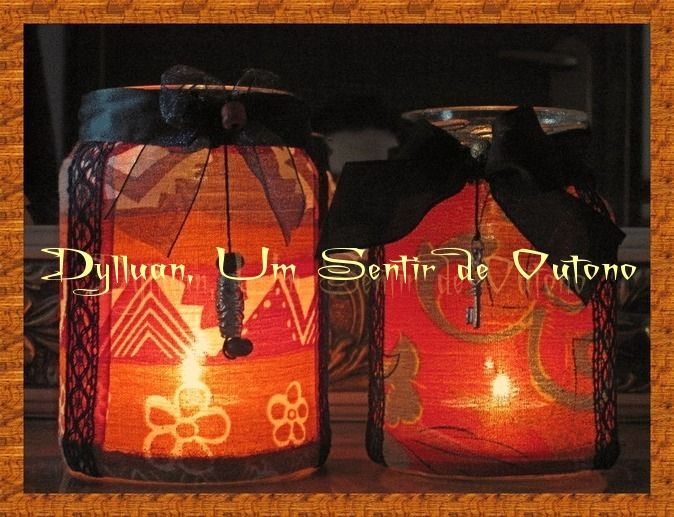






1 comentários:
Ora bofff grrr não há dentadinhas, nem dentes afiados, nem donzelas submissas ao fascinio dum qualquer dentuço... grunfff
(agarrando na cauda e saindo com dignidade)
enxofre
Enviar um comentário